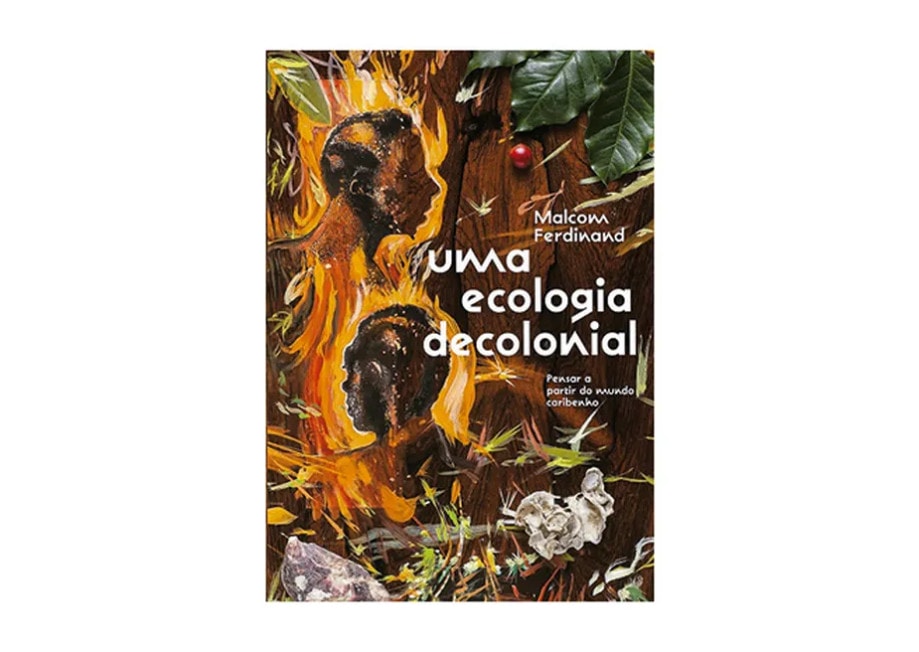Quando Cristóvão Colombo ancorou sua frota nas Antilhas, em 12 de outubro de 1492, o feito não só marcou a chegada a um território desconhecido pelos europeus como também o início de uma exploração que durou séculos. A colonização subsequente à “descoberta” das Américas mudou os rumos da vida de milhares de pessoas que já habitavam o continente — e do modo de habitar a Terra como um todo. Essa é a visão do engenheiro ambiental Malcom Ferdinand, de 38 anos
Nascido na Martinica, ilha do Caribe que é parte do território da França, o pesquisador tem se dedicado a investigar como a lógica colonial degradou nossa relação com a natureza (e, consequentemente, todo o meio ambiente) e de que maneira o caminho inverso, da decolonialidade, pode salvar o planeta.
Tudo isso a partir de uma perspectiva caribenha. “Para mim, é essencial pensar no Caribe, já que ele foi um importante ponto de contato entre povos originários e colonizadores desde 1492”, afirma o engenheiro. “Enquanto os nativos consideravam a Terra uma entidade sagrada, a forma colonial de habitar explorava essa mesma Mãe Terra indiscriminadamente — prática que prevalece até hoje no processo de globalização capitalista.”
Graduado em engenharia ambiental pela Universidade College London (UCL), na Inglaterra, Ferdinand sempre se interessou pelas interfaces entre ecologia, antropologia e história. A partir de seus estudos, escreveu o livro Uma ecologia decolonial: pensar a partir do mundo caribenho, publicado no Brasil pela Ubu Editora em 2022. A obra foi agraciada com o Prix du Livre, prêmio da Fundação de Ecologia Política, na França, quando foi lançada no país europeu em 2019.
A publicação conta com prefácio escrito pela filósofa afro–americana Angela Davis. “Este é o livro que eu gostaria de ter lido anos atrás, especialmente quando tentava compreender as inter-relacionalidades de gênero, raça e classe”, escreve a renomada escritora no início da obra. A edição brasileira ganhou posfácio escrito por Guilherme Moura Fagundes, professor do Departamento de Antropologia da Universidade de São Paulo (USP), e rendeu a Malcom sua primeira viagem ao Brasil.
Em março, ele participou de eventos para divulgar e debater o livro — entre eles, “Encontros para o Amanhã: saberes que reinventam o mundo”, promovido pelo Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Durante sua visita, ele falou com GALILEU sobre como a valorização de culturas racializadas e originárias é fundamental para a causa climática.
Após se formar como engenheiro, você passou a estudar a relação entre o processo de colonização e de degradação do planeta. Por que decidiu se debruçar sobre esse tema?
Depois de me formar em engenharia ambiental na Inglaterra, participei de uma missão humanitária em Darfur, no Sudão, onde atuei em um programa que visava garantir a populações deslocadas o acesso a água e saneamento básico. Essa experiência me direcionou para os estudos que faço hoje sobre formas de habitar a Terra.
Muitas pessoas querem saber por que e como faço essa relação entre ecologia e decolonialidade, entre meio ambiente e emancipação. Hoje, me pergunto por que essa relação não é evidente para todos. Para mim, esse questionamento é resultado da colonização de saberes, que promove alguns tipos de conhecimentos e remove outros.
A colonização impôs uma maneira muito restrita de habitar a Terra: com monocultura, mineração, escravidão. E esse modelo, que eu chamo de habitar colonial, segue até hoje.
De que forma esse “habitar colonial” está presente na sua experiência como caribenho?
Eu nasci em Martinica, uma pequena ilha no Caribe que tem uma relação bem conflituosa com a França. Esse território, que hoje é um departamento ultramarino francês, foi uma colônia por mais de três séculos [de 1635 a 1946]. Nesse período houve tanto um genocídio dos povos originários de Martinica quanto um intenso fluxo de tráfico de pessoas vindas da África e escravizadas no Caribe. Elas foram retiradas de suas terras e obrigadas a viver sob um regime colonial de plantation, que reduziu toda a complexidade de viver na e da Terra à extração e ao consumo dos seus recursos.
A colonização foi uma mudança enorme na maneira de como a gente habita. Com a imposição desse habitar colonial, muitas práticas e visões distintas de como habitar o planeta foram perdidas. Por isso, precisamos lutar para preservar as que sobreviveram, pois delas podem surgir muitas soluções para os problemas advindos da lógica colonial — tanto ambientais quanto sociais.
Na Martinica, não só temos visto o rápido agravamento de vários problemas ambientais como também convivemos até hoje com a discriminção racial. A população da ilha é composta em maior parte por pessoas negras e há uma pequena, mas poderosa, parcela de pessoas brancas — além de uma minoria de origem chinesa e indiana também. Se você for lá, vai sentir também que há muitos conflitos com raízes no racismo, presentes nas instituições e até mesmo na língua.
O maior problema da crise climática é que algumas partes do mundo contribuíram muito pouco para as mudanças que vemos hoje, mas costumam ser as mais atingidas”
— Malcom Ferdinand fala sobre como a emergência climática agrava as desigualdades
Atualmente, quais são os principais problemas ambientais e climáticos na ilha?
A emergência climática tem prejudicado principalmente nossos recursos alimentícios. Sofremos com o uso abusivo de agrotóxicos, parte da lógica da plantation criada pela colonização. O maior problema da crise ambiental é que algumas partes do mundo contribuíram muito pouco para as mudanças que vemos hoje, mas essas regiões costumam ser as mais atingidas, e não têm as ferramentas para lidar com ela. Isso aumenta a desigualdade no mundo e a concentração de poder.
Além disso, é preciso dizer que soluções técnicas são necessárias, mas há muitas soluções baseadas no conhecimento ancestral dos nossos povos que também devem ser levadas em consideração. Além de lutarmos por direitos e emancipação, há uma necessidade de repensarmos a maneira como habitamos. É importante elaborar uma relação mais saudável para os ecossistemas e também para nosso corpo, reconquistar a dignidade e qualidade de vida de todos os povos.
O que as experiências no caribe podem nos ensinar a respeito disso?
Para mim, é essencial pensar nesse mundo caribenho, já que ele foi um importante ponto de contato entre povos originários e colonizadores desde o início, em 1492. Enquanto os nativos consideravam a Terra uma entidade sagrada, a forma colonial de habitar explorava essa mesma Mãe Terra indiscriminadamente — prática que prevalece até hoje no processo de globalização capitalista.
Na história clássica do pensamento ambientalista colonial, pessoas do Caribe não tiveram o direito de falar. Mas acredito que aqueles que viviam originalmente nessas terras, que estavam sendo escravizados e estavam no porão dos navios negreiros, também tinham desejos e ideias para construir um novo mundo. Só que, nessa genealogia clássica, esses indivíduos não existem. Então, precisamos mudar isso, porque há um processo de invisibilização e exclusão desses conhecimentos e vontades. O resultado é a pintura de uma ideia sem a maioria das pessoas.
Sobre sua relação com angela davis: de que forma ela influencia seu trabalho e como foi ter o prefácio do livro escrito por ela?
Angela Davis tem sido uma grande inspiração para mim e para minha família, especialmente para minha mãe, que é também uma ativista — eu não fui batizado de Malcom à toa [em referência ao ativista de direitos humanos afro-americano Malcolm X]. Sou muito grato por ela ter concordado em escrever o prefácio de forma tão altruísta.
Sabe, para estarmos aqui hoje, as pessoas que vieram antes da gente realmente tiveram que resistir e se tornar pioneiras em seus campos, abrindo novos caminhos para minha geração. Ela é uma das muitas pessoas que fizeram isso. Não só ela foi muito humilde e acolhedora com meu trabalho, mas também o recebeu brilhantemente, trazendo um olhar perspicaz para a obra.
Nos últimos tempos, Davis tem se interessado cada vez mais por causas socioambientais, como vegetarianismo e poluição, e também de que formas elas impactam a população negra, a mais afetada por desastres climáticos. Essa é uma questão, uma luta contínua e eu acho que ela [Davis] dá uma maior visibilidade tanto ao livro quanto a esse problema global.
Mas o que proponho é que o racismo é também uma maneira de habitar a Terra, e essa maneira está causando a destruição dos ecossistemas”
— Ferdinand explica como o processo de colonização e, consequentemente, de “habitar a Terra” se baseou em discriminar minorias étnicas e raciais
Por que o antirracismo é peça-chave para uma melhor relação com o meio ambiente?
Porque está tudo interligado. O que é o racismo? Talvez a gente considere que seja só uma maneira de pensar, uma maneira de tratar as pessoas. Em parte, é verdade. Mas o que proponho é que o racismo é também uma maneira de habitar a Terra, e essa maneira está causando a destruição dos ecossistemas — e as minorias raciais, étnicas e de gênero são os grupos mais vulneráveis às consequências dessa degradação.
É preciso reconhecer que as discriminações raciais promovidas pelo processo de colonização constituem formas de habitar a Terra e são questões inerentes à crise ecológica. O que aponto no livro é que a luta pela preservação e manutenção do planeta sempre foi uma pauta prioritária para movimentos minoritários e que eles deveriam ter mais autoridade nas tomadas de decisão sobre o tema. Para reparar e proteger a Terra, é preciso ser antirracista e decolonial. Os povos originários e racializados precisam se reapropriar das questões ecológicas e ter seus conhecimentos sobre a Mãe Terra reconhecidos.
Por fim, qual mensagem você espera que o livro deixe para o público brasileiro?
Que pessoas negras e indígenas deveriam ter a maior parte do poder de decisão sobre o enfrentamento das mudanças climáticas — isso não só no Brasil, mas no mundo todo. Elas são as mais afetadas e têm a história, o conhecimento e a inteligência de propor a conceituação do problema e de possíveis soluções.