Devido a algumas percepções do meu cotidiano que me afetavam indiretamente, debrucei-me sob leituras que julguei pertinentes e necessárias a fim de entender o que me cerceava como mulher, e o que me rotulava por ser mulher e negra. Lembro que esse foi o pressuposto para eu pensar minha condição social no mundo no qual estava inserida, e, de posse dessas leituras, meu inconsciente retomou algumas situações do meu passado e da minha memória afetiva que delineou meu posicionamento político diante de determinadas fronteiras.
Por
A princípio, devo recordar uma situação que me ocorreu quando eu tinha oito anos de idade, e que me fez pensar por que e de qual lugar eu tomava para mim a condição de ser feminista (por mais que eu não reivindicasse esse rótulo para mim completamente).
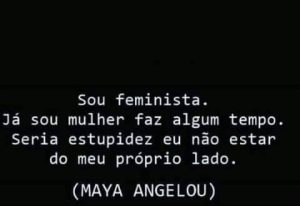
Certo dia, meu pai chegou do trabalho, foi ao banho, e minha mãe, atrelada com os afazeres domésticos, imediatamente largou o que tinha à mão, foi esquentar a janta para logo em seguida pô-la na mesa para ele. Eu, com oito anos, não concebia o porquê de uma pessoa, sendo ela mulher, ter de esquentar a comida para outra, no caso o homem, sendo que se ele estava com fome, ele deveria esquentar sua própria comida. Naquele tempo, eu não entendia muito bem como as situações transcorriam em meio à ordem social vigente para os nossos padrões de convivência numa sociedade patriarcal. Esse foi o fio da meada que me circundava.
Em momento oportuno, me apropriei de cabedal teórico sobre o feminismo negro, e pude perceber quais eram os demarcadores sociais que subjuga(va)m a mulher, em especial a mulher negra, à mera condição de subalterna.
Tão logo, vi a necessidade urgente de questionar, debater e sobrepor a ordem social que havia demarcado o meu lugar na sociedade, e, assim, partir para o enfrentamento diante das condições que me foram dadas.
Foi o que eu fiz: mergulhei a fundo em leituras de Bell Hooks, Alice Walker, Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, Chimamanda Adichie, Neusa Santos Souza, dentre outras, a fim de burlar o círculo vicioso no qual estava envolta e romper com os rótulos que me foram atribuídos.
Primeiramente, fiz uma imersão nas leituras, estas, por sua vez, como numa digressão psicanalítica, retomaram situações que me ocorreram quando da minha infância, mas que, por conta da imaturidade pueril, não me davam argumentos necessários ao que acontecia – momentos semelhantes aos acontecidos quando dos meus oito anos, e que por ora não compreendia. Aos poucos, fui relembrando casos e situações do meu espaço doméstico visto sob a ótica da normalidade, mas que me provocavam extremo furor. É importante salientar que devo retomar alguns dados da minha vida cotidiana familiar para que se possa entender o porquê da minha altivez e rebeldia, que mais adiante serão esmiuçadas.
Sou a filha mais nova de quatro irmãos – um já falecido – e que foi criada sob a égide da religiosidade cristã e do militarismo. Sempre superprotegida por ser a mais nova, a caçulinha da família, não só por meu pai, mas também pelos meus irmãos, tive uma formação escolar amparada pela educação militar. Ou seja, o militarismo extrapolava as fronteiras do meu ambiente familiar. Isso foi o suficiente para adestrar-me socialmente.
Era uma lição diária o que meu pai repetia para mim: eu deveria estudar, trabalhar, não casar e acima de tudo, nunca depender – financeiramente – de homem nenhum. Essa foi a premissa da minha criação até a idade adulta. E assim cresci, com esse lema que transcendia os limites do meu cotidiano. Um cotidiano cercado de subalternidade, submissão e obediência.
(Era bem difícil entender como um homem machista, autoritário, violento por definição, que submetia a minha mãe a uma verdadeira ditadura, podia ao mesmo tempo dizer que eu não deveria lutar para ter o meu e não depender de homem para nada porque “homem não presta”. Mas isso eu já expliquei em outro texto )
Estudei, trabalhei, não casei, e sempre busquei por minha autonomia financeira. Pensar o contrário era reviver tudo que minha mãe passava, e que eu repudiava. Em meio ao instrumental que meu pai se incumbiu de oferecer-me, eu o arguia diante os seus feitos. Ele ensinava aos meus irmãos a tratar com desrespeito as mulheres da rua, a sentar de perna aberta, a não conter sua necessidade fisiológica de urinar e aliviar-se no primeiro poste, a namorar logo cedo para firmar o ethos da masculinidade, ao tempo em que eu deveria ser prendada e recatada, para que ninguém se atrevesse a fazer comigo o que os meus irmãos faziam com as garotas da rua. Tão logo passei a questioná-lo. O sonho então se transformou num pesadelo. A menina obediente criada como um garoto, que não deveria se sujeitar a vontade de quem quer que fosse, agora passaria a questionar sua posição de macho alfa, e não mais aceitaria seus desmandos. A altivez e rebeldia agora tomavam conta de mim de modo tão palpável que se tornava a cada dia assustador.
Onde estava aquela criatura dócil e dedicada que nada questionava? Confesso que a adolescência é uma fase de imenso furor na vida de qualquer ser humano, pois a audácia e a altivez lhe são peculiares e desafiadoras. O que foi fundamental para eu travar um campo de batalha no meu âmbito doméstico-familiar, diante os questionamentos que me cercavam, a vida que levava, os desmandos a que era submetida. Advém daí tamanha rebeldia e altivez. Questionar era (é) para mim fundante em qualquer relação. O direito de questionar me faz ser quem eu sou, e, sobretudo, firma o contrato de uma relação horizontal para que se possa estabelecer um diálogo necessário.
E é por questionar e defender o direito de assim fazê-lo que fui buscando para mim a identidade feminista – ainda que, como já disse acima, eu não reivindicasse o rótulo. O direito de não ponderar a igualdade de gênero perante os indivíduos, o direito de contrapor ideias que têm como premissa a razão e o óbvio da objetividade masculina. O direito de achar estranho e anormal as estatísticas que apontam os elevados níveis de violência contra as mulheres.
Ou seja, lá no auge da minha infância havia uma veia feminista que esbarrava no autoritarismo e na falta de informação necessária às arguições a que hoje disponho. Lá, na minha infância, estava guardado o meu feminismo. Um feminismo que não compreendia bem o sentido e a ordem das coisas, mas que se intrigava com as relações que eram constituídas. Sem saber fazer o devido uso dos argumentos (afinal de contas, eu era uma criança), mas que percebia a estranheza presente nos meandros da relação machista do meu pai para com minha mãe, o que me causava estranheza ver que cabia a minha mãe as tarefas domésticas, enquanto que meu pai dizia que homem não lavava pratos; me causava estranheza quando meu pai inseria meu irmão mais velho na vida sexual do modo mais comum e antigo que os pais se utilizam para assim fazer, ao tempo em que eu, como menina, deveria me preservar e privar, inclusive do casamento, um mal nada necessário.
Foi urgente a necessidade de repensar minha condição perante o mundo, pois foi diante dele que se ergueram as minhas dúvidas mais insurgentes. Foi no meio familiar, escolar, na vida comunitária, no espaço de trabalho que se ergueram meus questionamentos diante o que me era posto.
Quando meu pai dizia que eu, ainda criança, tinha de cuidar dos meus sobrinhos, ao tempo em que para meu irmão não cabia a mesma obrigação. No momento em que, por estudar em colégio militar, devia obediência ao superior pela patente e pelo status de masculinidade. No instante em que sofri meu primeiro assédio, aos treze anos de idade quando estava a caminho da escola. Quando fui por diversas e incontáveis vezes assediada sexual e moralmente no trabalho, por ser mulher, negra e, por conta disso, considerada e tratada como inferior socialmente. Quando, na família, não aceitaram o fato de eu ter estudado e ter sido a primeira a ingressar na faculdade, ter um emprego público e uma estabilidade que me propiciava uma comodidade necessária, ao tempo que meu irmão mais velho não gozava das pequenas benesses que arduamente adquiri (que a meritocracia não seja a medida de todas as coisas, mas neste caso específico, esta muito me serviu). Quando comecei a delinear meus anseios nos meus escritos e fui arbitrariamente questionada sobre a minha formação e vinculação partidária, por acharem que por ser mulher e negra, eu não tinha competência e inteligência necessárias para defender minhas ideias sem o esteio de um diploma ou grupo de militância.
Foi diante tudo isso que julguei mais que necessário o meu posicionamento político frente à sociedade que me relega ao rés do chão que me desampara. Parto da premissa de que assimetria social não se repara com política de governo, e sim de Estado. Uma política de Estado efetiva que se insira nos moldes de uma constituição cidadã, e não de um Estado com prerrogativas legais fundadas no machismo contemporâneo e arcaico, e que veicula a violência contra a mulher como mera estatística; uma violência amparada em números.
Pois, cabe-nos pensar o quão violenta é a permissividade do Estado em não punir com severidade atos infratores de agressão à mulher. Situações de estupro, em que muitas delas, senão todas, são vistas como motivadoras do crime e não como vítimas.
A esquizofrenia social nos conforma na ideia de que nós, mulheres, achamos normal e até mesmo comum o fato de uma em cada dez mulheres ser agredida por seu marido/companheiro dentro do seu espaço doméstico, e tal ação ser justificável por se estabelecer aí uma relação conjugal (“em briga de marido e mulher, não se mete a colher”). Ou seja, partilhar um espaço doméstico sustenta a premissa de que a mulher pode sim ser propriedade do homem, e no caso ou eventualidade desta ser cobiçada por outro, a culpa é única e exclusivamente dela que “não se deu ao respeito”.
Cremos no fato de que os crimes passionais movem-se pela paixão obsessiva, mas não atentamos que esta se firma na lei colonial que fala sobre o crime contra a honra, que dizia que o marido tinha o direito de matar sua esposa em caso de traição por parte desta. Essa era a prerrogativa das Ordenações Filipinas, da época do Brasil Colonial, que perdurou no país até meados da década de 1920. O que mudou de lá pra cá? A conjuntura legal estabeleceu novos parâmetros, no entanto, a configuração social em muito se assemelha.
Sei que diante tal situação houve avanço no sentido de minorar os efeitos da violência contra a mulher. Mas o ganho social ainda é ínfimo diante da tamanha desvantagem na qual nos encontramos.
Não devo aqui desconsiderar todo o esforço investido com ações em prol da igualdade na garantia de direitos entre homens e mulheres, mas ainda estamos muito aquém de algumas questões.
O desserviço prestado em diversos campos da sociedade nos exibe claramente que ainda estamos firmados em contratos sociais que prezam pela assimetria de gênero. E podemos facilmente notar quando adentramos o campo da saúde, pois os índices de violência obstétrica só ratificam que ainda há muito que prosperar.
Deste modo, devo aqui dizer que não reivindico para mim a condição de feminista por modismo ou fetiche. A transversalidade em que o feminismo tem se instaurado perpassa toda a conjuntura que lhe insere num único viés.
As relações de poder instauradas no tecido social reverberam que ainda há muito que se fazer, e toda atividade laboral é extenuante. E como não ser diante de tamanha necessidade de representar o diverso, o que não compõe o padrão?
Não se adequar aos moldes de uma identidade de gênero que zela pela masculinidade heteronormativa, cristã, cis e branca é afrontar os direitos já constituídos de quem o é. Por isso, reafirmo a necessidade de repensar qual paradigma vingamos quando arguimos essa posição como única e formadora de padrões oriundos de um círculo excludente e violento, ensimesmado de razões que solapam o direito à cidadania e o livre pensar quando estamos fora desse padrão.
E mais uma vez ratifico que devemos confrontar todo e qualquer pensamento que nos acomode na qualidade de minoria, no seu sentido semântico. Não somos minoria. Reunamo-vos em prol de uma verdadeira e válida equidade de gênero.
Reafirmemos o compromisso de promover ações que caibam no bojo social vigente, e, sobretudo, assegurem o direito de ser mulher na instância que nos cabe. A mulher que trabalha, que estuda, que é arrimo de família, a que tem marido, a que é mãe solteira, que escolheu não ter filhos, que é cis, trans, hetero ou homoafetiva, que pretende casar, que preza por sua liberdade sexual.
Que não prepondere aqui um estatuto do privilégio, e sim, a garantia de direitos que prezem pela igualdade de gênero, e acima de tudo, se sobreponha aos ditames socialmente postos sobre a mulher.
É pensando nisso que retomo minha condição de feminista.