De acordo com a antropóloga, a exposição parte de um desejo e um dever de mostrar as implicações do sistema escravocrata
por Theo Monteiro, do Núcleo de Pesquisa e Curadoria no Select
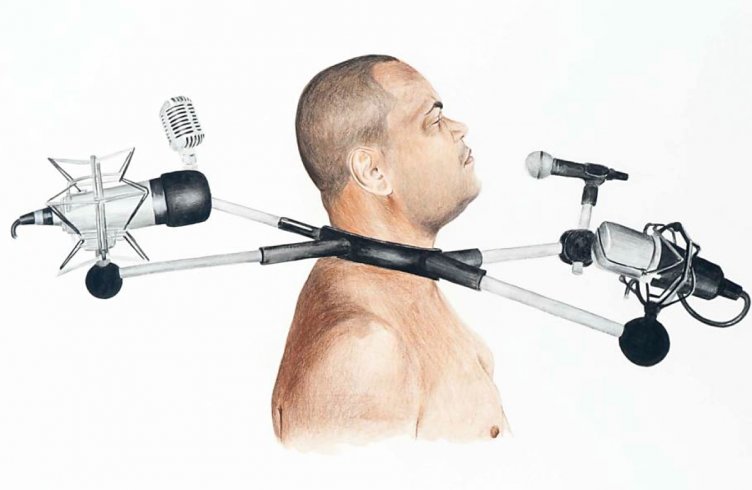
A fim de discutir e apresentar a mostra Histórias Afro-Atlânticas, em cartaz no MASP e no Instituto Tomie Ohtake, o Núcleo de Curadoria do Instituto Tomie Ohtake propôs algumas perguntas à historiadora, antropóloga e curadora Lilia Moritz Schwarcz. A entrevista é parte de uma série de conversas que pretendem aproximar o público de certos meandros que configuram uma exposição. Para compor essa série de entrevistas, convidamos uma das curadoras da exposição Histórias Afro-Atlânticas, Lilia Schwarcz para discutir alguns dos conceitos e temas que nortearam a pesquisa.
Você tem uma vasta pesquisa referente ao tema da escravidão, que perpassa sua carreira desde a graduação, passando por mestrado, doutorado, livre-docência e titularidade, além de livros publicados. Como essa exposição se relaciona com sua pesquisa?
Desde o doutorado, venho tratando as imagens como documentos, isto é, conferindo-lhes a mesma importância que fontes escritas. Naquela ocasião, em função do alto número de imagens analisadas, eu brincava que o meu doutorado continha uma exposição. Na minha livre-docência, intitulada “As Barbas do Imperador” foram reunidas na tese 1200 imagens, ao passo que no livro tem 600. Depois escrevi a biografia do Taunay, um pintor, cuja a escravidão era tema central também. Assim fui acumulando tanto esse trabalho com a linguagem pictórica quanto com a linguagem escrita, sem hierarquizá-las.
Sobre a exposição: tudo começou quando fui apresentada, através da artista Adriana Varejão, ao Adriano Pedrosa. Juntos, nós idealizamos o projeto “Histórias Mestiças”, que foi apresentado no Instituto Tomie Ohtake em 2014. Foi um projeto de muita pesquisa: tanto histórica quanto de artes visuais. O tempo de duração infelizmente não foi tão longo, pois foi simultânea a 31 Bienal de São Paulo, mas mesmo assim foram gerados muitos debates, polêmicas e reflexões. Logo depois da exposição, o Adriano assumiu o MASP como curador-chefe e me convidou para ser curadora adjunta para a seção de “Histórias e Narrativas”. Eu sempre brinco que, no MASP, como curadora, sou uma boa historiadora. Assim, esse projeto do “Histórias Afro-Atlânticas” era algo que eu já vinha acalentando, tanto em função do mesmo reunir uma boa carga de pesquisa acadêmica, realizada no interior da universidade, como por trazer essa pesquisa para o espaço expositivo e atingir um propósito de divulgação de conhecimento. A nossa academia, apesar de eu ser bastante agradecida a ela, tem um caráter muito fechado em si próprio. Por eu ter, durante toda a minha formação, estudado na escola pública, acho importante que exista essa ponte entre academia e sociedade.
Dentro do MASP, já como curadora adjunta, ajudei, ao lado do Adriano, a conformar esse projeto do museu, que se volta em torno das histórias: Histórias da Infância, da Sexualidade e agora o Afro-Atlânticas. Nesse sentido, a exposição ajuda a coroar todo um ciclo de pesquisas que eu realizei ao longo da minha trajetória.
Costuma-se dizer, e você própria chegou a afirmar por vezes, que o período do pós-abolição da escravidão ainda não acabou no Brasil. Por que não acabou? Essa afirmação é válida para outros contextos onde houve escravidão?
É válida sim, para todos. O pós-abolição no Brasil tem início em 1888, após uma lei bastante conservadora, que não garantiu a inclusão social que precisava garantir. O fato de o Brasil ter possuído escravizados durante quase quatro séculos em todo o território nacional é um passado que acaba trazendo um grande contencioso para o presente. Durante algum tempo, a historiografia que tratou do período do pós-abolição situava o período entre 1888 e 1930, como se processos dessa envergadura pudessem ser marcados por contingências históricas. Nós não só herdamos uma política de desigualdade, como fazemos o possível para ampliá-la. Nos censos oficiais, as populações negras são as mais discriminadas no que se refere a saúde, a educação, a justiça, ao transporte e aos índices de mortalidade. Por onde quer que olhemos, esse racismo estrutural, iniciado com o sistema escravocrata, ainda persiste em nosso país. Em meu livro escrito com Heloisa Starling: “Brasil, uma Biografia”, destaco como características formadoras e persistentes do Brasil o patrimonialismo e a escravidão. Em geral, quando se pensa em História se pensa nas transformações, mas a História também é sobre aquilo que não muda, que permanece, que persiste. E essa persistência ocorre também no resto do mundo afro-atlântico, em países como Cuba, Estados Unidos e Haiti. Em todos esses, a raça é um fator que pesa em relação a esses índices sociais. A exposição também vai de encontro a algo que não apenas é um desejo nosso, mas também um dever, de mostrar as implicações desse sistema escravocrata que produziu a maior diáspora depois de Roma.
Você se debruça sobre essa discussão racial a mais de 30 anos. Você acha que a maneira como o brasileiro lida com essa discussão vem mudando ou ainda é cedo para dizer isso?
Em termos de apelo popular, ela vem mudando. Graças aos movimentos negros essa questão tem ganhado um apelo público muito maior. Quando eu comecei a tratar desse tema, as pessoas achavam um despropósito, por vezes eu era acusada inclusive de “produzir racismo”. Havia uma aversão ao assunto na própria academia. Quando comecei a estudar sobre o Lima Barreto, me atentei para algo que ele diz que, embora eu seja branca, me identifiquei: “Quem fala de discriminação [racial] se torna uma pessoa desagradável”. Eu tomei o termo dele porque, mesmo branca, insistir nessa questão me tornava desagradável, fosse no dia a dia, fosse no debate acadêmico. Era um tema que provocava muita hostilidade. As pessoas rebatiam, diziam que aqui não havia preconceito. Em 1988, realizamos uma conhecida pesquisa na USP, onde perguntávamos aos brasileiros se eram racistas e 97% responderam que não. Quando nós perguntamos a esses mesmos brasileiros se eles conheciam alguém racista, 99% responderam que sim, sempre parentes e pessoas próximas. Como eu brinco, a nossa conclusão informal foi que o brasileiro se sente uma ilha de democracia racial cercado de racistas por todos os lados. Quando fizemos o censo étnico na USP fomos igualmente acusados de racistas. Isso para ver como foi difícil fazer vingar essa agenda. No momento atual, temos um grande paradoxo: de um lado, o tema ganhou uma legitimidade nacional que ele não tinha, agora as pessoas têm muito mais dificuldade de negar o preconceito no Brasil, ou tem menos ojeriza a ideia das cotas raciais. Mas eu vivi um momento em que esta questão era um verdadeiro tabu. De um lado, as políticas de ação afirmativa, como cotas e inclusão estão sim na agenda pública, no debate público. Por outro lado, os dados censitários revelam que no dia a dia nada mudou. Nós estamos, por exemplo, matando uma geração de jovens negros, os dados são similares a guerra civil, calamitosos. Na questão dos estupros, bastante real no Brasil, a mulher negra tem chances muito maiores de ser estuprada.
Existe na exposição uma opção por tratar a escravidão a partir do eixo atlântico, em detrimento de uma abordagem mais nacionalista do tema. Tal modo de abordagem guarda relação com uma historiografia da escravidão mais contemporânea. Como você vê a trajetória dessa historiografia nos últimos 30 anos?
A historiografia brasileira sobre esse tema é reconhecida nacional e internacionalmente. A pesquisa de João José Reis teve muita importância nesse sentido, pois ela retira o escravizado do lugar de “vítima passiva” do sistema escravocrata, ressaltando a importância e o papel das revoltas e resistências contra o mesmo, foi um estudo de grande importância, que influenciou inclusive a historiografia internacional. Existem também importantes trabalhos sobre escravidão e gênero, que enfoca na situação das mulheres escravizadas. A vertente do biografismo também vem ganhando força, uma vez que começam a se nomear sujeitos que estiveram escravizados nesse sistema, não apenas tratando esses indivíduos como autônomos integrantes de uma categoria. Essa maneira de pensar a escravidão de forma transatlântica vem ganhando força, pois vão sendo reveladas as trocas não apenas entre os senhores, mas também entre as populações negras da diáspora: religiões, ritos, filosofias e muitas outras trocas que ocorreram nesse processo. A exposição busca trazer esse tipo de perspectiva para refletir acerca das convenções visuais que circularam por esse universo transatlântico. Interessante, por exemplo, perceber situações como o carnaval, que aparece em diferentes contextos, como Brasil, Jamaica e Cuba e é relido de diferentes formas. Esse tipo de troca se manifesta inclusive em uma arte modernista, presente no núcleo “Modernismos Afro-Atlânticos”.
Lilia Moritz Schwarcz é historiadora, antropóloga e Professora Titular da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, além de uma das mais célebres e renomadas pesquisadoras do Brasil no que se refere a temas como racismo e escravidão. Estudiosa a quase 40 anos sobre estes temas, Lilia Schwarcz tem diversos livros publicados na área, como “Retrato em Branco e Preto”; “O Espetáculo das Raças” e o mais recente “Lima Barreto: Triste Visionário”.




