Saúde reprodutiva da população negra representa um novo campo de produção de estudos e conhecimentos, que se encontra em construção no Brasil a partir da confluência de duas áreas de estudos: a da saúde reprodutiva e a das relações raciais. Representa ao mesmo tempo um campo de produção teórica e de ação política.
Por Edna Roland
Délcio da Fonseca Sobrinho destaca três grandes momentos da história do planejamento familiar no Brasil (Congresso Nacional, 1993). O primeiro, anterior a 1964, “cujas origens remontam ao período imperial e primórdios do republicano, era marcado por um sentimento natalista difuso e pela ideia racista de busca de melhoria da raça brasileira”. O segundo caracterizou-se pela polêmica do controle versus anticontrole, da qual participaram os militares, “que buscavam argumentos de ordem estratégica e de segurança nacional, a Igreja, que alinhava razões de ordem moral e religiosa, e as correntes de esquerda, que argumentavam tratar-se de uma manobra imperialista para impedir a libertação do povo brasileiro”. Tal embate ideológico teria perdurado até que os militares substituíram o inimigo externo pelo interno — representado pelas famílias numerosas, que seriam presa fácil da propaganda subversiva — e a Igreja Católica passou a admitir o planejamento familiar por meio de métodos naturais. Tais fatos teriam propiciado um maior consenso “em torno do direito à saúde, do direito ao acesso às informações e aos métodos contraceptivos”, permitindo o surgimento do Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM).
Não me estenderei na discussão sobre a conceituação de saúde reprodutiva, na medida em que esta já é objeto de outros artigos desta coletânea. Cabe aqui apenas demarcar que a expressão “saúde reprodutiva” popularizou-se a partir do seu uso pela Organização Mundial de Saúde, na busca de um termo que pudesse incorporar as críticas feitas ao antigo conceito de planejamento familiar, incluindo outros problemas e aspectos de saúde ligados à reprodução, não se limitando à contracepção, espaçamento ou limitação da prole. O termo foi se legitimando em diferentes setores com interesses na área, até ser elaborado no Programa de Ação da Conferência Internacional de População e Desenvolvimento, no Cairo, em 1994. Paralelamente, verificou-se o desenvolvimento do conceito de direitos reprodutivos, impulsionado sobretudo pelo movimento feminista internacional, sendo os termos eventualmente utilizados de forma intercambiável,embora este último, apesar de toda a polémica inclusive no interior do movimento feminista, guarde sempre um sentido mais político, que ultrapassa o âmbito da saúde e se referencia na noção de construção de direitos da cidadania. O conceito de direitos reprodutivos e, posteriormente, o de direitos sexuais — que passou a ser utilizado a partir da Conferência do Cairo, mas principalmente com as novas elaborações de Beijing — tiveram papel fundamental, permitindo a construção dessa nova área.
Por outro lado, as relações raciais no Brasil constituem objeto tradicional de pesquisadores e estudiosos de diferentes orientações teóricas e disciplinas. Tais estudos têm versado principalmente sobre temas relativos aomercado de trabalho, educação, religião, práticas culturais, destacando-se a história, a antropologia e a sociologia como as disciplinas que mais têm dedicado atenção a este campo. Alguns estudos tradicionais bordejaram o campo que futuramente viria a se constituir: é antigo e recorrente o interesse pelo tema da miscigenação, responsabilizada inicialmente por todos os males que impediam o desenvolvimento do povo brasileiro, “raça degenerada de mestiços”, ora vistos como estéreis, ora considerados excessivamente férteis. Esta visão negativa da miscigenação teve um dos seus expoentes em Nina Rodrigues, representante do pensamento eugênico no Brasil. A eugenia, formulada por Galton em 1883, era uma espécie de prática avançada de darwinismo social cuja meta era intervir na reprodução das populações. Gobineau propunha a pureza racial e escandalizava-se com a “feiúra” dos mestiços, maioria do povo brasileiro. Morton considerava que o Egito teria entrado em decadência em virtude da grande miscigenação ocorrida (cf. Schwarcz, 1995).
Tal concepção foi revista e recusada por Gilberto Freyre, que transformou a miscigenação no símbolo mais positivo da civilização dos trópicos, ao mesmo tempo instrumento e resultado da democracia racial brasileira, e em prova inconteste da harmonia entre negros e brancos, como se o estabelecimento de relações sexuais implicasse ausência de violência.
A confluência destas duas áreas tornou-se possível a partir dos estudos demográficos desenvolvidos principalmente pelo Núcleo de Estudos de População (Nepo), da Unicamp, que na década de 80 publicou uma série de pesquisas que vieram a se constituir num marco para o desenvolvimento dos estudos sobre a saúde reprodutiva da população negra no Brasil. Foram dessa época as pesquisas sobre dinâmica demográfica da população negra desenvolvidas pela equipe da demógrafa Elza Berquó, tendo sido publicados dados sobre nupcialidade, fecundidade e mortalidade infantil que demonstravam diferenciais significativos entre negros e brancos, ou, com maior precisão, entre mulheres pretas, pardas e brancas (Berquó, Bercovich e Garcia, 1986; Berquó et alii, 1987).
Essas pesquisas do Nepo apresentaram informações muito importantes acerca de comportamentos relativos à vida sexual e reprodutiva dos diferentes segmentos de cor da população brasileira no período de 1940 a 1980, que podem ser assim resumidas:
— As mulheres classificadas pelo censo como pretas se casavam mais tardiamente que as brancas e as pardas, o mesmo ocorrendo com os homens pretos. Da mesma forma, homens e mulheres pretas apresentavam os maiores índices de celibato.
— Mulheres pardas e pretas apresentavam níveis de uniões legalizadas inferiores aos das brancas.
— A mestiçagem continuava aumentando, fazendo-se mais frequente entre homens pretos com mulheres brancas do que o contrário.
— Entre a população preta eram mais frequentes mulheres mais velhas do que os maridos.
— Até os anos 60, a fecundidade das mulheres pretas era mais baixa do que a dos demais grupos de cor, enquanto a fecundidade das mulheres brancas caiu continuamente desde a década de 40, tornando-se a mais baixa em 1980, quando caíram as taxas de todos os grupos de cor. As mulheres pardas apresentavam sempre as mais altas taxas de fecundidade e a diferença entre elas e as mulheres brancas aumentou proporcionalmente de 1940 a 1980.
— A menor fecundidade das mulheres pretas era relacionada ao maior número de mulheres sem filhos, o que por sua vez era relacionado ao menor número de mulheres pretas unidas e, possivelmente, a piores condições de saúde.
— As diferenças regionais eram maiores do que as diferenças entre grupos étnicos da mesma unidade da Federação.
— As taxas de fecundidade se reduziam para todos os grupos de cor com o aumento do nível de instrução, sendo que a influência de um maior nível de instrução era maior para as mulheres pretas.
— Os filhos de mães brancas estavam sujeitos a uma mortalidade infantil 44% menor que os filhos de mães pardas e 33% menor que, os filhos de mães pretas em 1960. Em 1980 os filhos de mães negras (pretas e pardas) atingiram o índice das brancas de vinte anos atrás. Em todos os grupos de cor a mortalidade infantil se reduzia com o aumento do nível de instrução.
Foi sobre este cenário delineado pela demografia que, no final dos anos 80, se iniciou a atuação do emergente movimento de mulheres negras brasileiras, que passou a definir ou redefinir diferentes focos temáticos, juntamente com atores sociais tais como parlamentares, pesquisadores, profissionais de saúde e militantes dos movimentos negro e feminista.
Em 1988, o Conselho Estadual da Condição Feminina de São Paulo realizou juntamente com a Secretaria de Estado da Saúde um seminário para discutir a normatização da esterilização feminina, no qual a demógrafa Elza Berquó apresentou, em primeira mão, dados acerca do uso de contraceptivos no Brasil, baseados na Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (PNAD) de 1986. Tomou-se conhecimento então da altíssima prevalência da esterilização feminina no país, bem como da variabilidade dos índices nos estados da Federação. Chamou a atenção o fato de que o Maranhão, o estado que apresentava a maior proporção de população negra, tinha também os mais altos índices de esterilização feminina. As representantes do movimento feminista bem como do movimento de mulheres negras presentes ratificaram o apoio ao PAISM e questionaram a normatização da esterilização, temendo que esta prática cirúrgica pudesse ser priorizada em detrimento dos métodos reversíveis. A discussão sobre a normatização da esterilização já havia sido abordada anteriormente por Carmen Barroso, em 1987, numa das sessões da Comissão de Constituinte do Conselho Estadual da Condição Feminina, tema então bastante polémico no movimento de mulheres e que já tinha sido objeto de discussão na Comissão dos Direitos da Reprodução, do Ministério da Saúde.
Em 1989, o Geledés – Instituto da Mulher Negra, que iniciava suas atividades, foi convidado pelo Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde e por Margareth Arilha para integrar a coordenação do Seminário Nacional sobre Morbi-Mortalidade Materna, o segundo de uma série de três diálogos financiada pela International Women’s Health Coalition, envolvendo pesquisadores, profissionais de saúde e militantes feministas. Neste seminário, apenas um dos textos apresentados fazia referência a diferentes condições de saúde reprodutiva das mulheres negras: Anna Voloschko, no seu trabalho sobre comitês de mortalidade materna, referiu-se aos maiores riscos no caso de abortos de mulheres acometidas de anemia falciforme.
Em 1990, o Geledés iniciou o seu trabalho com grupos de auto-ajuda e oficinas de saúde reprodutiva, enquanto retomava o debate político sobre o problema da esterilização cirúrgica de mulheres no Brasil, tema que àquela altura não entusiasmava o movimento feminista, que o considerava já desgastado e sem solução em face do contingente de milhões de mulheres esterilizadas, principalmente via partos cesáreos, tendo em vista a ilegalidade da prática conforme as leis brasileiras. Antevendo a importância que o tema iria adquirir na conjuntura, o Programa de Saúde do Geledés foi lançado em 1991 com um debate sobre a esterilização de mulheres no Brasil e o lançamento simultâneo de dois cadernos: Mulher negra e saúde e Esterilização: Impunidade ou regulamentação?
A posição política defendida então pelo Programa de Saúde foi alvo de críticas tanto dentro do próprio Geledés quanto do movimento negro e de setores do movimento feminista. Parte do Geledés mantinha a visão tradicional do movimento negro de considerar a esterilização em si pura e simplesmente um instrumento de genocídio do povo negro. Recusando uma posição política que chegava ao cúmulo de declarações de militantes negros de que era tarefa política das mulheres negras terem filhos, o Programa de Saúde considerava que tal visão não incorporava a discussão do conceito de direitos reprodutivos, prendendo-se unicamente aos resultados demográficos das práticas contraceptivas, sem levar em conta as necessidades e desejos das mulheres em relação ao controle de sua prole.
Considerava também tal visão simplista: se podia ser suficiente para declarações públicas, era inadequada para lidar com o dia-a-dia das mulheres e de fato compreender um fenómeno complexo, multicausal, que requeria a formulação de políticas públicas, adequação de serviços de saúde, educação das mulheres, campanhas de mídia etc.
Por outro lado, o Programa de Saúde também discordava de alguns setores do movimento feminista que acentuavam na discussão da esterilização os aspectos da rebeldia e da recusa radical à maternidade, considerando que nas condições das mulheres negras e pobres ela expressava, muito mais, ausência de liberdade, ausência de escolha. Enquanto estes setores defendiam liberar a esterilização, o Programa de Saúde propunha regulamentá-la para coibir os abusos e estimular outras alternativas.
Este debate político acerca da esterilização, que não foi consensual no interior do movimento de mulheres negras, constituiu talvez um debate embrionário acerca das possibilidades de que o movimento de mulheres negras viesse a produzir uma visão própria no campo da saúde reprodutiva, diferenciada das matrizes teóricas e políticas tanto do movimento negro quanto do feminista.
Por outro lado, a Assessoria de Saúde da Mulher da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo era naquele momento integrada por membros do Coletivo Feminista e do Geledés, aos quais somou-se posteriormente um membro da União Brasileira de Mulheres.
Em 1990, o Conselho Estadual da Condição Feminina resolveu retomar o debate acerca da normatização da esterilização e constituiu uma comissão integrada por representantes de diferentes setores pertinentes à questão. Foi na qualidade de representante da Secretaria Municipal da Saúde que fiz parte da referida comissão, a qual teve como ponto de partida do seu trabalho a proposta anteriormente elaborada pela Comissão dos Direitos da Reprodução. Num trabalho bastante cuidadoso, esta comissão procurou elaborar recomendações claras e precisas que pudessem ser incorporadas a um eventual projeto de normatização.
Em março de 1991, o deputado Eduardo Jorge, tendo tomado conhecimento de um projeto de lei que propunha a legalização da esterilização cirúrgica, propôs a realização de uma mesa-redonda para debater a questão na Câmara Federal. Dessa mesa-redonda resultou a primeira versão do Projeto de Lei nº 209/91, subscrito pelos deputados Eduardo Jorge, Benedita da Silva e outros, que viria a se tornar a lei de regulamentação do planejamento familiar após seis anos de tramitação no Congresso Nacional. Esta primeira versão baseou-se na proposta da comissão formada pelo Conselho da Condição Feminina de São Paulo, mas já introduzindo algumas modificações, a exemplo da idade mínima para a realização da esterilização, que foi aumentada para 30 anos de idade, enquanto a proposta inicial era de 25 anos1.
A apresentação do projeto causou muita polémica entre diferentes setores e por razões diversas. Setores do movimento negro, principalmente no Rio de Janeiro, questionaram a deputada Benedita da Silva, considerando que a esterilização se constituía num instrumento de genocídio do povo negro. Para enfrentar a pressão política sofrida, a deputada apresentou em 20 de novembro (Dia Nacional da Consciência Negra) de 1991, juntamente com o senador Eduardo Suplicy, um requerimento propondo a constituição de uma comissão parlamentar mista de inquérito destinada a investigar a incidência de esterilização em massa de mulheres no Brasil. A CPMI foi instalada em abril de 1992 e tinha como um de seus objetivos “averiguar a existência de políticas eugênicas ou racistas e sua implementação na saúde reprodutiva do país”. Durante dois meses foram colhidos 27 depoimentos, entre os quais de seis representantes do movimento de mulheres, sendo três do movimento de mulheres negras2.
A representante do Ceap, que havia lançado uma campanha nacional contra a esterilização em massa de mulheres, informou que a campanha interpretava o controle da natalidade como contribuição para o genocídio da população negra no Brasil. Todavia, respondendo ao relator sobre o que esperava da comissão, declarou estar de acordo com o depoimento de Maria Betania Ávila, que representava a Rede Nacional Feminista de Saúde e Direitos Reprodutivos, “no sentido de esperar que os resultados da CPI contribuam para a construção de uma nova ética, reforçando a cidadania das mulheres negras e de toda a população brasileira”. Manifestava também a sua concordância com o PAISM, destacando que o conceito de planejamento familiar dizia respeito ao direito ao acesso livre e gratuito a formas variadas de anticoncepção, mas não só, entendendo que o conceito de planejamento familiar não devia se restringir à saúde da mulher, mas incorporar ações mais complexas, em termos de moradia, creche, escola etc. (Congresso Nacional, 1993).
A representante do MNU declarou “a existência de discriminação racial nas ações relativas à esterilização de mulheres no país”. Como exemplo diso citou o documento do Grupo de Assessoria e Participação (GAP), constituído no governo Maluf com o objetivo de reduzir a população negra no Brasil, e as campanhas publicitárias do Centro de Pesquisa e Assistência em Reprodução Humana, dirigido pelo médico Elsimar Coutinho, que utilizava “peças publicitárias racistas para ilustrar a necessidade do controle de natalidade” (idem, p. 92). Afirmou que, “em um país racista como o Brasil, não existe possibilidade de políticas que se dirijam a grandes contigentes populacionais, sem que essas políticas tenham efeitos diferenciados e desiguais entre brancos e negros”. Destacou também o fato de que 66% das mulheres esterelizadas no Nordeste eram negras. Considerava também que havia manipulação na maneira como os dados eram apresentados, citando o fato de que 43% das mulheres brancas da Bahia e 39% das mulheres negras estavam esterilizadas. Todavia, essas porcentagens representavam 76 mil mulheres brancas e 243 mil mulheres negras.
A representante do Geledés declarou “não ser possível abordar a questão do controle de natalidade sem considerar as consequências dessa prática no corpo da mulher” (idem, p. 98), considerando fundamental que a política populacional do país respeitasse o direito humano básico e fundamental das mulheres de determinar sua própria vida. Destacou que para se compreender a questão da esterilização em massa de mulheres no Brasil é necessário analisar as relações entre países ricos e pobres, na medida em que do ponto de vista dos países do Hemisfério Norte “somos todos negros, cidadãos do Terceiro Mundo, cidadãos de segunda classe”. Afirmou que as políticas demográficas dos países desenvolvidos visam controlar o crescimento das populações dos países pobres, incluindo a eliminação de determinados povos. Enfatizou a importância de políticas mais adequadas, que preservem os direitos de homens e mulheres brasileiros de decidir sobre a sua sexualidade e sua saúde reprodutiva.
Os depoimentos das três representantes do movimento negro expressam o estado das discussões naquele momento (1992) acerca de uma temática extremamente polêmica. Como se pode notar, os três depoimentos incorporam uma preocupação demográfica com os efeitos da esterilização. Adiciona-se a isso, em graus diversos, a prespectiva dos direitos da mulher, especialmente no depoimento da representante do Geledés, no qual está presente o núcleo da noção dos direitos sexuais e reprodutivos.
A CPMI encerrou-se em setembro de 1992, declarando que os dados da PNAD 86 não confirmavam a denúncia do movimento negro de maior incidência de esterilização em mulheres da raça negra, ressalvando todavia ” a dificuldade de se apurar com precisão a informação relativa à cor da pele dos brasileiros”.
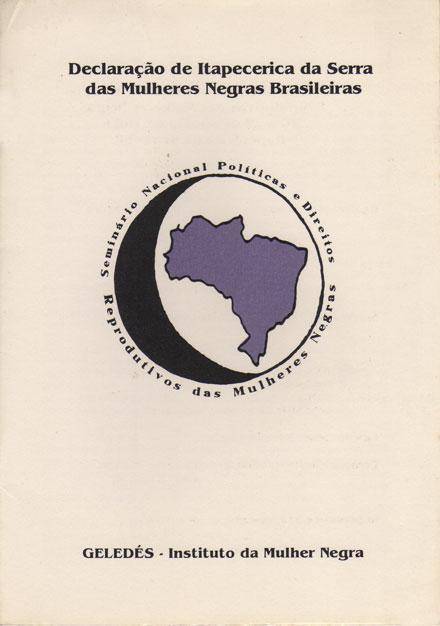
No processo de preparação para a Conferência Internacional de População e Desenvolvimento, no Cairo, começou a emergir um posicionamento que representava talvez a possibilidade de uma posição política autônoma do movimento de mulheres negras. Por iniciativa do Programa de Saúde do Geledés, que então coordenávamos, realizou-se o Seminário Nacional Políticas e Direitos Reprodutivos das Mulheres Negras, em agosto de 1993, do qual participaram 55 lideranças pertencentes a organizações de mulheres negras, organizações negras, organizações feministas, universidades, serviços de saúde, Parlamento etc. Deste seminário resultou a “Declaração de Itapecerica da Serra”, documento que se constituiu num marco do mo¬vimento de mulheres negras brasileiras.
Este documento, escrito consensualmente por praticamente todas as forças políticas atuantes no movimento, definiu as posições deste novo sujeito político em relação a uma série de questões. As mulheres negras brasileiras recusaram a posição patriarcal dos neomalthusianos, que responsabilizam o crescimento da população pela pobreza, a fome e o desequilíbrio ambiental, e identificaram a perversa distribuição de renda e a concentração da terra como os verdadeiros responsáveis pelo quadro de miséria no país. As mulheres negras mantiveram sua posição crítica em relação à esterilização cirúrgica, considerando que os reflexos da esterilização em massa de mulheres negras no país se fizeram sentir na redução percentual da população negra em comparação com a década anterior. Todavia, neste documento fundamental, as mulheres negras declararam também que liberdade reprodutiva é essencial para as etnias discriminadas, reivindicando do Estado as condições necessárias para que possam exercer a sua sexualidade e os seus direitos reprodutivos, controlando a sua própria fecundidade. Além de reivindicar políticas públicas globais de emprego, abastecimento, saúde, saneamento básico, educação e habitação, consideradas pressuposto para o exercício de direitos amplos de cidadania, as mulheres negras propugnaram a implantação do PAISM, bem como a implementação no sistema público de saúde de programas de prevenção e tratamento de doenças de alta incidência na população negra que têm sérias repersussões na saúde reprodutiva, tais como a hipertensão, a anemia falciforme e as miomatoses.
Além das preocupações com a contracepção, a “Declaração de Itapecerica” focalizava com bastante ênfase a Aids, as drogas endovenosas e as condições de atendimento ao parto, motivo de preocupação tanto do ponto de vista da mulher, quanto dos prejuízos para a criança. Grande importância também foi dada à democratização da informação epidemiológica, com a introdução do quesito cor nos sistemas de informação em saúde, bem como aos recursos necessários para financiar a saúde pública.
À mera queda da fecundidade, que se constitui por vezes em objetivo de governos e organismos internacionais, as mulheres negras brasileiras opuseram o direito pleno à vida e à felicidade não apenas enquanto indivíduos, mas enquanto membros de uma mesma comunidade de destino (Seminário Nacional Políticas e Direitos Reprodutivos das Mulheres Negras, 1993, pp. 4, 5 e 8).
O peso da “Declaração de Itapecerica” foi tal que legitimou a participação de uma delegação de mulheres negras no Encontro Nossos Direitos no Cairo (em Brasília, 1993) e na Conferência Saúde Reprodutiva e Justiça (Rio de Janeiro, 1994). Diversos itens da Declaração foram incorporados ao relatório oficial do governo brasileiro e ela certamente contribuiu para que a Rede Nacional Feminista de Saúde e Direitos Reprodutivos indicasse uma mulher negra para representá-la no Cairo.
É sintomático que a única vez em que o movimento de mulheres negras brasileiras logrou elaborar um documento político consensual tenha sido no campo da saúde e direitos reprodutivos. A importância que esta temática adquiriu no interior do movimento pode ser avaliada analisando-se os temas trabalhados pelos grupos de mulheres negras no país: de treze grupos pesquisados, apenas um não desenvolvia atividades relacionadas à saúde reprodutiva (Roland, 1997).
Além do trabalho teórico, político e educativo realizado pela antiga equipe do Programa de Saúde do Geledés e das já referidas pesquisas do Nepo, deve ser acrescentada a existência da equipe de pesquisadoras do Programa de Saúde Reprodutiva da Mulher Negra do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap), responsável pela produção de informações sobre saúde reprodutiva da população negra. Este Programa produziu informações sobre esterilização cirúrgica (Berquó, 1994), uso de métodos contraceptivos, aborto, gravidez e mortalidade infantil. Deve-se destacar também a realização de dois seminários sobre predisposição biológica, nos quais se esboçou a noção de doenças raciais/étnicas e se iniciou a discussão sobre uma bioética anti-racista e anti-sexista (Cebrap, 1994). Deve ser lembrada também pesquisa sobre miomas realizada por integrante desta equipe (Souza, 1995).
Outros fatores importantes foram a relevância da temática da saúde reprodutiva no movimento feminista, constituindo assim um pólo de influência, e a existência de fontes de financiamento tanto nacionais quanto internacionais.
Ao longo destes anos os demógrafos ainda não responderam adequadamente à pergunta formulada pelas mulheres negras: se não há diferenças nos percentuais de mulheres negras e brancas esterilizadas, como explicar a queda do percentual da população negra na última década? (Roland, 1995).
Além do debate em torno de temáticas da saúde reprodutiva, outras iniciativas se fizeram necessárias para que o campo de saúde reprodutiva da população negra pudesse se constituir, na medida em que não se dispunha de dados oficiais sobre saúde e raça no Brasil. Contando com um secretário da Saúde3 extremamente sensível tanto para as questões da mulher quanto ao combate a quaisquer questões de desigualdade, articulamos em 1990, juntamente com outros profissionais negros da Secretaria Municipal da Saúde, uma audiência de setores do movimento negro para que fosse apresentada a reivindicação da introdução do quesito sobre cor/raça dos usuários do sistema municipal de saúde nos prontuários e em todo o sistema de informação. A reivindicação foi prontamente aceita e posteriormente formalizada numa portaria no último dia da gestão do secretário, como medida de precaução para garantir a continuidade da política adotada.
A introdução do quesito cor no sistema de informação municipal em saúde contou com uma série de iniciativas para garantir a sua implementação: realização do seminário “O quadro negro na saúde”, dirigido aos administradores e gerentes bem como aos integrantes dos núcleos de estudos e pesquisas epidemiológicas das dez regiões de saúde do município de São Paulo; produção de material educativo para sensibilizar a população e os funcionários; seminários de sensibilização dos funcionários e profissionais acerca da importância do preenchimento da informação sobre cor/raça; articulação interinstitucional com outros setores da prefeitura de São Paulo e setores do movimento negro. Posteriormente foi produzida uma publicação com os primeiros dados coletados na Pesquisa de Morbidade do Município de São Paulo, na qual se evidenciou a importância da hipertensão arterial como causa de busca do serviço de saúde pelas mulheres negras. Sendo a hipertensão uma das principais causas de morbimortalidade materna, tal informação revestiu-se de grande importância para o diagnóstico da saúde reprodutiva das mulheres negras (Prefeitura do Município de São Paulo, 1992).
Merece destaque também a importância que a questão da Aids adquiriu no interior da comunidade negra, abrindo o debate sobre sexualidade, doenças sexualmente transmissíveis e uso de drogas. Muitas práticas e materiais educativos foram desenvolvidos com uma perspectiva étnica: o vídeo Todos os dias são seus, de 1991, o primeiro produzido no Brasil sobre mulheres e Aids, pelo Programa de Saúde do Geledés e o grupo Comulher; a cartilha Odoya, dirigida às comunidades de terreiro, produzida pelo Iser; a revista Fala Preta, dirigida a adolescentes; as oficinas do Projeto Salva-Vidas, realizadas inicialmente pelo Programa de Saúde do Geledés e posteriormente pela organização Fala Preta; o projeto Arayê, da Abia; os materiais e seminários realizados pelo grupo Atobá; a cartilha sobre sexualidade e saúde reprodutiva produzida por Vera Fermiano; os pósteres e oficinas produzidos pelo grupo Criola etc. A importância desta produção é justificada por estudo realizado em 1992 dando conta do enegrecimento da epidemia (Roland, 1992), juntamente com o processo de feminização e pauperização. Deve também ser destacado que, a exemplo da questão dos miomas, os estudos acerca da população negra trazem novas questões para o campo da saúde reprodutiva, como é também o caso da anemia falciforme (Pinho, 1995).
Finalmente, podemos considerar que o campo da saúde reprodutiva da população negra legitimou-se no Brasil quando, em 1995, o documento da Marcha Zumbi Contra o Racismo, pela Igualdade e a Vida (1996) incorporou no seu programa “a implementação efetiva do programa de assistência integral à saúde da mulher e a formulação de um programa de saúde reprodutiva que contemple as necessidades dos homens negros”. No campo governamental, a saúde reprodutiva da população negra foi discutida por ocasião da mesa-redonda realizada pelo Ministério da Saúde e o Grupo de Trabalho Interministerial sobre Saúde da População Negra, em 1996 (Ministério da Saúde, 1996).
Navegando entre os velhos espectros de Malthus e Gobineau, atualizados pelos novos e assustadores poderes produzidos pelas biotecnologias, ativistas, pesquisadores e profissionais têm diante de si a difícil tarefa de produzir um conhecimento que seja um instrumento de promoção da dignidade, igualdade e equidade e não novas formas e instrumentos de discriminação e marginalização da população negra.
1 – A questão da idade mínima para permissão da realização da cirurgia de esterilização constituiu-se numa das grandes polémicas do projeto. Alguns grupos do movimento feminista apoiaram uma proposta de substitutivo que foi apresentada pela deputada Fátima Pelaes, o qual propunha a maioridade civil, ou seja, 21 anos, na medida em que consideravam ilegal o estabelecimento de qualquer idade diferenciada para a realização de atos no campo da reprodução. Embora concordando teoricamente com este princípio filosófico, preferimos levar em conta a realidade epidemiológica e as condições dos serviços de saúde no Brasil, temendo que, caso este critério fosse aprovado, haveria uma epidemia ainda maior de mulheres jovens esterilizadas. A lei aprovada fixou-se nos 25 anos e acrescentou um critério adicional de um mínimo de dois filhos, o qual não apoiamos por trazer implícita uma ideia do tamanho de família sancionado pelo Estado.
2 – Jurema Werneck, então representante do Centro de Articulação de Populações Marginalizadas (Ceap), Luiza Bairros, então coordenadora nacional do Movimento Negro Unificado (MNU), e Edna Roland, então diretora do Geledés – Instituto da Mulher Negra.
3 – Dr. Eduardo Jorge, que deixou posteriormente a Secretaria Municipal da Saúde para assumir seu cargo de deputado federal no Congresso Nacional, quando apresentou uma série de projetos de lei relacionados à saúde da mulher e da população negra.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Berquó, E. Esterilização e raça em São Paulo. São Paulo: Cebrap, 1994.
Berquó, E., Bercovich, A. M. e Garcia, E. M. “Estudo da dinâmica demográfica da população negra”. Textos Nepo, nº 9 Campinas, Nepo-Unicamp, 1986.
Berquó, E. et alii. “Nupcialidade da população negra no Brasil”. Textos Nepo. Campinas, nº 11, Nepo-Unicamp, 1987.
Cebrap. Cadernos de Pesquisa, nº 2 — “Alcances e limites da predisposição biológica”. São Paulo, 1994.
Cebrap e Fala Preta. Anemia falciforme – Anime-se informe-se. São Paulo, 1997.
Congresso Nacional. Relatório final da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, Relatório nº 2. Brasília, 1993.
Marcha Zumbi Contra o Racismo, pela Igualdade e a Vida. Brasília, 1996. Ministério da Saúde. Saúde da população negra — Relatório final. Brasília, 1996. Oliveira, F. Bioética — Uma face da cidadania. São Paulo: Moderna, 1997
________. O sétimo dia da criação. São Paulo: Moderna, 1995.
Pinho, M. D. G. “Mulheres negras e anemia falciforme”. Presença da Mulher. São Paulo, ano VII, nº 27, 1995.
Prefeitura do Município de São Paulo, Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Epidemiologia, Pesquisa e Informação, Grupo de Trabalho – Quesito Cor. Introdução do quesito cor no sistema municipal de informação da saúde. São Paulo: Cefor, 1992
Roland, E. Mulher negra e Aids. Rio de Janeiro: seminário “Mulher e Aids”, Uerj, 1992.
________. “Direitos reprodutivos e racismo no Brasil”. Estudos Feministas. Rio de Janeiro, 1995.
________. O movimento de mulheres negras brasileiras: Desafios e perspecti vas, 1997 (a ser publicado pela Comparative Initiative of Human Relations da Southern Education Foundation, Atlanta).
Schwarcz, L. M. O espetáculo das raças — Cientistas, instituições e a questão racial no Brasil— 1870 -1930. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.
Seminário Nacional Políticas e Direitos Reprodutivos das Mulheres Negras. Declaração de Itapecerica da Serra das Mulheres Negras Brasileiras. São Paulo: Geledés/Programa de Saúde, 1993.
Souza, V. C. Mulher negra e miomas: Uma incursão na área da saúde, raça/ etnia. São Paulo: dissertação de mestrado, PUC, 1995.
Artigo publicado no livro Políticas, Mercados, Ética – Demandas e Desafios no Campo da Saúde Reprodutiva. Org: Margareth Arilha e Maria Teresa Citeli. Editora 34. São Paulo, 1998, pg. 97.