A mãe solo Thaiz Leão, 29, está atarefada. Muito atarefada. Ela e o filho Vicente já estão em casa direto há três meses. As aulas são virtuais e a professora da escola envia tarefas e recados pelo celular. Quando o aparelho vibra, ela para tudo e bota o garoto de seis anos para estudar. Na marra, mantém de dois a três afazeres ao mesmo tempo. Nem sempre consegue.
Assim que o menino começa os deveres, ela retorna para o computador. Ajeita os óculos e fica meio cansada, meio elétrica. Do outro lado da tela estão milhares de mães solo, como ela, à espera de uma ajuda.
Desde o início da pandemia, Thaiz, diretora da Casa Mãe e criadora da página “A Mãe Solo”, coordena a campanha #SeguraACurvaDasMães. O nome é a uma alusão à curva de contágio do novo coronavírus, mas a ideia é impedir que os dados negativos contra as mães continuem a crescer.
Não à toa, elas foram atingidas em cheio pela Covid-19. O trabalho de maneira remota com as crianças em casa tem sido difícil. Quem não pôde se isolar têm medo de adoecer ou transmitir o vírus para os filhos. Milhares, porém, não tiveram a sorte de manter o emprego quando a crise bateu. Chefes de família, então com contas em dia, buscam cestas básicas e auxílio emergencial para conseguir comer. “Os empregos das mulheres foram dizimados no primeiro dia de pandemia”, explica a ativista.
Sem política pública, mães solos estão construindo redes para questionar e redefinir o papel materno em uma sociedade em colapso econômico e sanitário.
Pela internet, Thaiz faz sua parte. Ela recebe doações e envia R$ 150, ajuda psicológica e social para 1.734 mães vulneráveis em todos os estados brasileiros. Cerca de 7 mil pessoas são auxiliadas, contando idosos e filhos sob os cuidados das cadastradas. A ideia é somar o valor com o auxílio emergencial oferecido pelo governo federal. Há mães, porém, que sequer tem CPF e acesso a uma conta corrente. Nesses casos, é preciso encontrar familiares que possam receber o valor. Também foram criados grupos regionais de WhatsApp para que elas troquem favores entre si.
“As escolas eram o único apoio que tínhamos do estado, pois não há parquinhos, nem serviços públicos para as mães”, diz Thaiz por chamada de vídeo, enquanto Vicente, filho que teve ainda durante a universidade, brinca na sala. No caso dela, pôde contar com o pai para ficar com o filho por 4 meses. Nem sempre é assim com outras mães. “Há mães solo que estão no limite do desgaste financeiro e emocional. Com depressão, ansiedade e suicídio batendo na porta”, diz.

Na cultura brasileira, as mães são maioria nas reuniões escolares, nos consultórios médicos, nas salas de espera de dentistas e nos playgrounds. Milhares de pais não se sentem pressionados a fazer o mesmo.
Muitos somem quando descobrem a gravidez ou ainda com os filhos recém-nascidos. A realidade é tratada por especialistas em termos como “epidemia de abandono afetivo” e até “aborto masculino”.
Só nos primeiros seis meses de 2020, mais de 80 mil brasileiros não tiveram o nome do pai em registros de nascimento, de acordo com a Associação Nacional dos Registradores Civis de Pessoas Naturais (Arpen Brasil). O IBGE estima 57 milhões de lares chefiados somente por mulheres.
Tanto a culpa pelo abandono e quanto o sumiço dos pais caem no colo das mães. “É a cultura do ‘quem mandou?’. Ou daquele ditado: ‘quem pariu Mateus, que o embale'”, explica Thaiz.
“Em todo mundo existe um filme da Disney a respeito do que é ser mãe. É preciso de um príncipe em um lado, a mãe do outro e um filho na coluna ao meio. Caso fuja desse padrão, há vários aparatos morais para julgá-la”, diz Thaiz.
Missão materna surgiu no século 18
O termo “mãe solteira” era usado para julgar mulheres sem marido. Nos últimos anos, a alcunha pejorativa foi substituída por “mãe solo”. A ideia é a de evitar que a maternidade seja validada somente por um estado civil. Há mães solo que defendem estender o significado até a quem tem um marido que não faz nada para criar o filho.
Por séculos, médicos e intelectuais da filosofia e da psicologia endossaram que a maternidade era uma característica biológica e moral das mães.
A ideia desse “amor incondicional” das mães começou por volta de 1760 na Europa, quando estudiosos perceberam que crianças com atenção exclusiva tinham chances maiores de sobreviver e, assim, reduzir impactos econômicos com a diminuição da população.
Foi o começo da chamada importância da “vida privada”. Até então, comunidades ocidentais partilhavam o cuidado dos recém-nascidos mais ou menos entre pessoas do mesmo quintal, o que ainda é comum entre povos africanos e indígenas.
À época, o casamento por contrato foi dando lugar ao casamento por amor. Os filhos de famílias ricas, porém, ainda eram enviados pelos pais para colégios em regime de internato, mas crescia a cobrança para romper com o modelo ligado à disciplina religiosa. O ideal era ser “mais moderno”. Na prática, toda essa modernidade sobrou para a mãe.
Segundo o livro “A polícia das famílias”, do sociólogo Jacques Donzelot, a partir do século 18 as mães europeias foram incumbidas de assumir a missão individual de ensinar os filhos em casa, em núcleos menores, e a amá-los como “parte de sua natureza” individual.
No século 19, a Família Real portuguesa e a burguesia importaram as mesmas ideias de família afetiva europeia ao virem para cá. Segundo historiadores, porém, o homem foi mantido como uma espécie de “patrão” do antigo sistema colonial. Ou seja: o que mantém as contas e os funcionários. Nada de afeto.
As brasileiras ricas, que terceirizavam o trabalho para as chamadas “amas de leite” – mulheres negras escravizadas —, foram gradualmente forçadas a amamentar os próprios filhos, a cuidar deles e educá-los. Enfim, assumir as rédeas afetivas da família, enquanto as mais pobres repetiam o modelo.
Nos anos 1980, historiadores, como Maria Isabel de Almeida, assinalam que a gravidez passou a ser percebida como uma decisão pessoal das mulheres brasileiras devido ao controle de natalidade. Ao mesmo tempo, passou a ser bem visto que, além de amar, educar, criar e parir, era de bom grado ter um marido e um “casal afetivo” para auxiliá-la no cuidado com a criança.
“Vivenciar a maternidade é cumprir uma série de ‘etapas’ pré-definidas”, pontuam Tamires Giorgetti Costa e Elisabete Figueroa dos Santos, pesquisadoras de um estudo sobre psicologia entre mães solos adolescentes e negras em entrevista para Ecoa. “Ao utilizarmos o termo ‘maternidade solo’ compreendemos que muitas mulheres assumem total responsabilidade pelos filhos”.
A vulnerabilidade é agravada entre mães solos que são pretas e pobres. “Mulheres negras são mais propensas à solidão afetiva e abandono de parceiros”, dizem.
De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a maioria (61%) das mães solo no país é negra. Entre os domicílios compostos por mulheres negras com filhos de até 14 anos, 63% se encontram abaixo da linha de pobreza.
O fato é que essa necessidade psicossocial de ‘dar conta de tudo’ tem levado as mulheres a adoecerem, sobretudo, neste período de pandemia em que o isolamento social é uma necessidade vital
– Tamires Giorgetti Costa e Elisabete Figueroa dos Santos, pesquisadoras sobre psicologia e mães solos adolescentes e negras
Leite sem Nesquik
A artista Thata Alves, 28, é mãe solo de dois meninos gêmeos de 9 em São Paulo. Ela teve uma gestação complicada. “Uma enfermeira me perguntou se eu escolheria a mim ou aos meus filhos em caso de morte”, diz.
As crianças nasceram prematuras e foram internadas por 21 dias na UTI. Ao saírem do hospital, Thata começou a passar a roupa de amigas para comprar um leite receitado de R$ 40. “Mas a altura da tábua era a mesma da minha cesárea. Conforme balançava o ferro, a tábua encostava na minha cirurgia e sangrava até inflamar”, relembra.
O pai, que desde o início da pandemia afirmou que não conseguia mais arcar com a pensão, só foi conhecer os filhos seis meses após o parto. No novo arranjo pandêmico, os gêmeos passaram a ficar 15 dias com ele, 15 com ela.
A mãe se diz “atrofiada” emocionalmente em trabalhar e ainda ensiná-los que cumprir tarefas domésticas não é exclusivo das mulheres. “Eu costumo dizer que leite dos meus filhos não foi misturado com Nesquik, mas com sangue”.
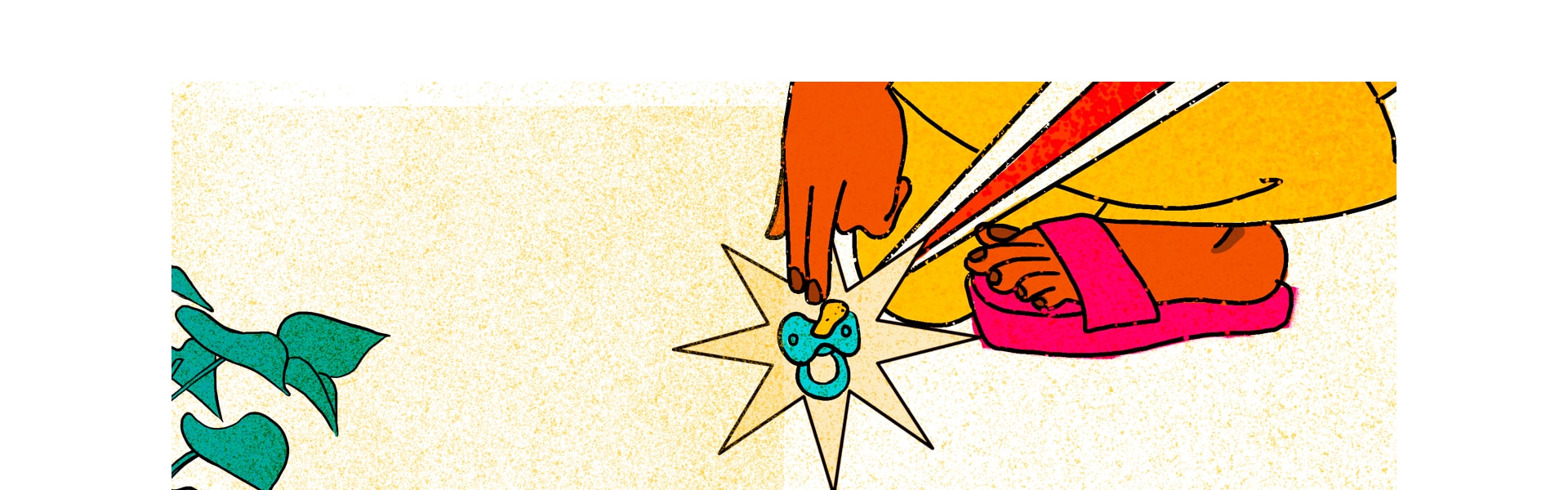
A construção de redes de apoio entre mulheres e mães solo é uma tática para diminuir as vulnerabilidades. Elas unem pessoas que ficam de olho nas necessidades uns dos outros e são ainda mais importantes para mães que ficaram desempregadas com a pandemia.
É o caso de Carolina Borges, 37, mãe solo de uma menina com 7 e outra com 4 anos. No início do ano, ela mudou-se para um apartamento com uma bela vista do recluso Jardim Botânico, na zona sul de São Paulo, para diminuir o aluguel.
A ideia era enxugar custos para sequer contratar um serviço de banda larga em casa e usar a internet gratuitamente em estabelecimentos da prefeitura, como os “telecentros”. Afinal, ela é ativa em conselhos municipais e luta para ter espaços e direitos para mães em locais públicos da cidade, como parques e bibliotecas.
Em março, porém, ela perdeu o emprego de divulgação de eventos e foi obrigada a usar uma reserva de dinheiro, acionar o Auxílio Emergencial e assinar um pacote de internet para realizar trabalhos em casa.
“As crianças usam meu computador e meu celular, onde faço trabalhos pontuais como social media e me dá um desespero. Se quebrar, eu nem mentalizo o que pode acontecer”, diz. “Eu faço mágica para fechar o mês.”
Segundo ela, algumas mães solo pretendem até “furar a quarentena” para desafogar umas às outras. Enquanto uma olha as crianças, a outra descansa “A gente está estudando e vendo o nível de isolamento de cada mãe para ver se vale até mesmo arriscar”, diz. “Tem dias que eu não durmo quase nada”.
No Brasil, o desemprego é uma realidade essencialmente feminina. Mesmo em períodos com forte atividade econômica, como entre 2007 e 2011, a taxa de desemprego entre mulheres manteve-se maior do que a dos homens.
Em 2017, eram de 15,8% de desempregadas; os homens eram 12,2%. De acordo com o IBGE, 7 milhões de mulheres ficaram desempregadas somente na primeira quinzena de março, no início do isolamento social. Até junho, a taxa de mulheres desempregadas foi de 14,9%. Dos homens, 12,0%.
Sou mãe, preta e periférica. Minha gravidez foi uma não escolha. Mas quando fiquei grávida, recebi apoio das minhas alunas, muitas delas mães solo também, uma coisa geracional. A gestação foi incrível. Meu filho é um menino muito carinhoso, mas as experiências depois disso vão ditando a sensação sobre ser mãe
– Fabiana Silva, mãe de um filho de 3 anos
Pais de Facebook
Segundo a historiadora Glaucia Fraccaro, professora da PUC Campinas e pesquisadora da história do trabalho feminino no Brasil, a divisão entre “trabalho de homem e de mulher” ganha força a partir de 1930, quando a escolarização menor das mulheres, ensinadas a ficarem em casa ou em serviços domésticos, as impedem de ter os mesmos trabalhos qualificados dos homens.
Os empregos das mulheres, geralmente nas indústrias da época, foram reduzidos às áreas relacionados ao cuidado: como enfermeiras, faxineiras e empregadas domésticas.
Em 1945, um decreto tirou todos os direitos trabalhistas do serviço doméstico, onde milhares de mulheres trabalhavam. A medida só foi revista com a PEC das Empregadas, em 2013.
A legislação trabalhista foi reforçando o caráter materno. Hoje, a licença-maternidade é de até seis meses para as mulheres, mas com período muito menor para os pais. Eles têm até 20 dias de licença-paternidade, mas apenas nas chamadas “empresas cidadã”. No geral, é de apenas 5 dias. Em entrevistas de emprego, tornou-se comum questionar se a candidata tem ou pretende ter filhos em breve.
“A solução é fazer o mundo do trabalho reconhecer [o trabalho doméstico], como uma dimensão incontornável e da manutenção da vida, a existência do cuidado como um trabalho em si e do sistema econômico”, diz a estudiosa.
Assim que o isolamento social começou, Fabiana Silva, 35, mãe de um filho de 3 anos e professora de dança, perdeu o emprego. Um contrato com a prefeitura foi rompido e serviços a ONGs foram cancelados. É uma das mães ajudadas pela #SeguraACurvaDasMães, do início da reportagem. Além de dinheiro, ela recebeu ajuda psicológica para lidar com as crises de ansiedade que começou a ter no isolamento.
Fabiana descobriu a gravidez três dias depois de terminar o namoro de dois anos. O ex é um jamaicano que tentava adaptar-se ao Brasil. Quando soube da gravidez, passou três meses por aqui e voltou para a Jamaica com a promessa de retornar. Nunca foi visto.
“É a figura do ‘Pai de Facebook'”, explica. O apelido é comum entre mães solo: há o pai que pouco vê o filho, mas compartilha várias fotografias nas redes sociais quando o encontra. É uma tentativa de parecer presente. Mas Fabiana diz lidar com uma nova categoria. “O pai é ainda menos do que isso: é pai de WhatsApp. Ele só faz videochamada e ainda me cobra a ensinar inglês para o meu filho”, diz.
Graças ao auxílio emergencial e a ajuda de uma rede apoio, ela pôde manter-se por um mês na casa onde vive com o filho em Guaianases, extremo da zona leste paulistana. Os parentes estão em Belo Horizonte (MG), onde nasceu. A responsabilidade, então, é toda dela.
Graças a um novo edital municipal, ela pôde transmitir as aulas de dança remotamente. Até hoje, porém, um vizinho empresta o sinal de wi-fi.
Sorte no trabalho, risco na pandemia
As mães solo com sorte o suficiente para manter o trabalho tiveram um problema adicional: sair para trabalhar e correr o risco de serem contaminadas.
A doula Camila Aguiar, 40, mãe de duas meninas de 6 e 16 anos, sai de casa de duas a quatro vezes por semanas para frequentar ambientes hospitalares onde há alas para pacientes de Covid-19. Às vezes, é preciso ficar de 18 a 20 horas fora de casa. Nesse meio tempo, elas ficam na casa do pai.
Quando teve a primeira filha, Camila sofreu com a solidão materna, uma cesárea dolorida e a ansiedade de não saber a quem recorrer. Para a segunda filha, ela montou uma rede de apoio entre gestantes para conseguir um parto humanizado, desabafar e ajudar umas às outras no cuidado com as crianças e entre si. “Foi um divisor de águas. Hoje eu ajudo mulheres pretas e periféricas a ter um parto humanizado seguro”, diz.
A mais velha já é instruída a entender o que é violência de gênero, assédio sexual e a compreender a profundidade da desigualdade sobre as mulheres. “Mães de meninos de 15 anos, talvez, não precisam se preocupar com isso”, pontua.
Já a mais nova ainda está chegando lá: vai aprendendo, aqui e ali, a importância de a mãe sair para o trabalho e educá-las. “Ainda não temos uma sociedade que olha para a parentalidade com igualdade. Vivemos em uma condição de sobrecarga”, reflete.
Quando chega em casa, Camila troca todas as roupas, vai para o banho e senta no sofá. É quando a mais nova a puxa pela perna e faz uma pergunta indigesta. “Mamãe, você está doente?”
No intervalo entre as duas filhas, Camila presenciou a nova construção de uma maternidade ainda mais solidária entre as mulheres. Caiu a romantização, mas não a luta em rever responsabilidades e construir um mundo mais justo para as mães do futuro. Para a filha menor, explica em detalhes como vai ficar tudo bem.
É preciso ter uma transformação não só da família, mas do estado, em observar a parentalidade de outro lugar. A criação de uma criança é um comprometimento e responsabilidade não só das mulheres.
– Camila Aguiar, mãe de duas meninas de 6 e 16 anos




