No dia 25 de julho, celebra-se o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. A data foi escolhida em virtude do 1º Encontro de Mulheres Negras da América Latina e do Caribe, realizado em julho de 1992, na cidade de Santo Domingo, na República Dominicana. O último dia do evento aconteceu no dia 25 de julho, quando foi criada a Rede de Mulheres Negras da América Latina e do Caribe, para a troca de informações, o estreitamento das relações e promoção de ações conjuntas de luta e resistência da mulher negra. E por ter sido uma data de decisões tão importantes, o dia 25 de julho foi escolhido como Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Dia de comemorar e de ampliar parcerias, dar visibilidade à luta, às ações, promoção, valorização e debate sobre a identidade da mulher negra.
E devido a tudo isso, eu decidi escrever hoje um post que versasse sobre a importância dessa data para a história das mulheres negras na atualidade, relembrando e valorizando sua luta para a conquista de espaços nunca dantes alcançados. Além disso, resolvi debruçar-me também sobre o negacionismo histórico que velam essa data e exaltam o dia 08 de março, Dia Internacional da Mulher
A celebração da data detém uma importância mais que simbólica quando ressalto o histórico de lutas de mulheres negras no país. E por isso me debruço, com especial atenção, ao que tomo como feminismo negro . De antemão, devo salientar que esse não será um post que colocará em voga um debate sobre as vertentes feministas e suas relativas importâncias às mulheres. Mas levantarei aqui pontos a serem observados, com a devida cautela, a fim que possa desmistificar qualquer assombro que a minha fala possa causar.
A comemoração feita hoje à mulher negra latino-americana e caribenha é mais que necessária, e, por si só, remete a um fator relevante: o recorte racial feito às comemorações feministas no Brasil. Pois todas nós sabemos que há outra data importante que é celebrada, o dia 08 de março – Dia Internacional da Mulher – cuja comemoração, oficializada em 1910, faz alusão ao acontecido em Nova York, em 1857, em que mulheres trabalhadoras de uma fábrica lutavam por melhores condições de trabalho e foram mortas num incêndio criminoso ordenado pelo dono da fábrica. E que não mantém nenhuma relação com a data de hoje.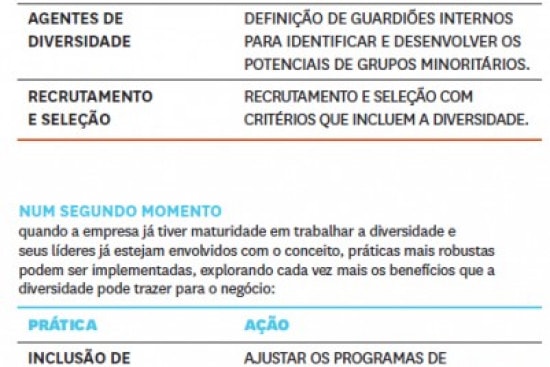
Os protestos organizados por mulheres, sobretudo norte-americanas e europeias, exercem importância significativa na vida sociocultural do nosso país. Para tanto, devemos lembrar que esses fatos em nada corroboram para a luta e causa da mulher negra no Brasil.
Devemos alertar para o fato de que essas mulheres – brancas europeias e estadunidenses – não provocaram nenhuma inovação frente aos nossos antepassados históricos. O que aconteceu no ano de 1857 em Nova York e posteriormente no ano de 1962 no Brasil – início da comercialização da pílula anticoncepcional –, devo dizer que foram feitos grandiosos que visavam a minorar os efeitos que achacam a mulher. Ser mulher é uma condição agravante diante a realidade misógina em que vivemos. Ainda assim, devemos perceber quais aspectos estão imbricados nos simbolismos dessas datas, bem como o enaltecimento histórico de cada uma delas. Pois em 1962, o advento da pílula anticoncepcional foi considerado uma grande revolução na vida sexual e reprodutiva das mulheres brasileiras. Mas devo dizer que muito antes disso – os anos da escravidão –, negras escravizadas faziam uso de beberagens[1] a fim de evitar a concepção. E isso nos mostra que os acontecimentos históricos adquirem notoriedade conveniente ao seu tempo e a um determinado grupo social. Ou seja, a análise histórica é seletiva.
* * *
A princípio, devo comentar sobre as mulheres negras que foram escravizadas no Brasil, no século XVI, a partir da década de 1530. Mulheres que foram sequestradas de suas terras, expropriadas de sua cultura, costume e família; estupradas, colocadas em condição de objeto sexual, égua de carga e máquina de trabalho, a fim de satisfazer um sistema econômico escravista, e (por que não dizer) racialista. Devo considerar que o conceito de racismo e/ou racialismo é oriundo do século XIX, mas as atrocidades sistematizadas e justificadas pela ciência neste período são bem mais antigas, para não dizer milenares.
Essas mulheres que foram trazidas e jogadas nas casas grandes e senzalas do Brasil para dar de mamar, amolengar o bolo de comida, tirar o bicho de pé, contar histórias para os filhos dos senhores de engenho e propiciar-lhes “as primeiras sensações de homem”[2] lutaram contra o regime em que foram postas de modos bastante diversos. Muitas se envolveram em rebeliões e revoltas, outras resistiram promovendo e afirmando sua religiosidade, e outras tantas tiveram de sobreviver da barganha pela alforria. Elas tiveram de negociar[3] com o senhor de engenho ou até mesmo com sua sinhá sua liberdade, e para isso eram submetidas a trabalhos árduos, e não raro subumanos. Viveram como escravas de ganho (saíam às ruas para vender produtos com a obrigação de destinar parte da féria semanal ao seu dono, e a outra era poupada para compra da alforria). Era essa a vida das escravizadas chamadas popularmente de “ganhadeiras”[4]: lavadeiras, quituteiras e rendeiras, que “ganhavam a vida” na esperança de comprar sua alforria, alcançar a tão sonhada liberdade e viverem do seu jeito próprio, exercendo autonomia sobre si.
Sobre isso, Gonçalves (2010) nos relata os desafios que Kehinde teve de enfrentar para sobreviver como escravizada e comprar sua alforria:
“A idéia do Francisco foi logo apoiada por todos que estavam sentados à nossa volta, querendo ouvir os relatos sobre os meus primeiros dias como escrava de ganho.
(…)
No fim do primeiro mês, o dinheiro foi certo para pagar a sinhá, sendo que nada sobrou, nem para mim nem para o aluguel da cozinha, o que me deixou bastante desanimada, pois nunca tinha trabalhado tanto.
(…)
O Sebastião perguntou se a sinhá sabia que eu conseguia ler e escrever e eu disse que achava que não. Ele comentou que era melhor que continuasse assim, para que a minha carta de alforria saísse mais barata.” (GONÇALVES, 2010, pág. 251-252)
É diante toda essa luta travada por mulheres negras escravizadas durante séculos em busca de liberdade e cidadania que cerro a minha defesa nessa causa. E digo-vos sem o menor pesar que por todos esses fatores é que me identifico com a causa do feminismo negro. Isso se deve aos impropérios que nos são desferidos por conta de um negacionismo histórico vigente que acomete milhares de mulheres pretas às valas de uma sociedade que insiste em manter sua estrutura colonialista, decrépita e eivada de assimetrias de classe e etnia.
Foi por causa de muitas mulheres que equilibraram sobre suas cabeças cestos, tachos, trouxas e tantos outros artefatos que eu defendo essa causa. O que referencio na vida de muitas Kehindes, Adeolas[5], Carolinas, Lindauras, Marias e tantas outras, justifica o que comemoramos hoje.
A referência de Simone de Beauvoir à luta feminista no mundo é importante, mas não contempla as problemáticas enfrentadas pelas mulheres pretas.
A dita ousadia de figuras como Chiquinha Gonzaga, Pagu e Leila Diniz são relevantes por ter quebrado tabus em suas épocas, mas isso não agregou os feitos anteriores das negras escravizadas.

E escrevo tudo isso com o aval que me cabe de ser uma mulher preta e consciente das lutas dos meus antepassados. Minha mãe era lavadeira, função herdada de minha avó, que notadamente fora herdada de minha bisavó e assim seguiu. Se, hoje, não sou também lavadeira, foi porque minha mãe travou uma luta árdua e solitária para que eu fizesse diferente, assim como tantas outras que a nossa história não conta.Luislinda Vallois
Se sair às ruas na Marcha das Vadias e alimentar o ideal de luta feminista em protesto ao acontecido em Toronto, no Canadá, em 2011, for maior que o feito da negra Zeferina[6] na Batalha do Quilombo do Urubu, em 1826, de fato, eu desconsidero Simone de Beauvoir e tantas outras.
Se a queima de sutiãs, realizada por mulheres brancas de classe média, é mais relevante para a causa feminista do que a atuação de Maria Felipa, eu me faço omissa à luta feminista. Pois o que esta mulher negra, nascida na Ilha de Itaparica, fez ao liderar um batalhão composto integralmente por mulheres negras nas lutas pela Independência do Brasil na Bahia, em 1823, sendo o mais notável feito o incêndio de 42 navios da esquadra de guerra portuguesa, não for fator relevante, esse feminismo não me representa.
Como representação de um feminismo negro e insurgente referencio D. Maria da Glória (in memoriam), D. Albertina (in memoriam), D. Maria da Conceição (in memoriam), D. Lindaura, D.Celina, D. Da Luz, Terezinha Conceição, Lélia Gonzalez (in memoriam), Sueli Carneiro, Carolina Maria de Jesus (in memoriam), Conceição Evaristo, Luislinda Valois, Mãe Stella, Ruth de Souza, Elisa Lucinda e tantas outras que lutaram e ainda lutam para garantir uma atenção à mulher negra no nosso país.
Nos mais, seguimos em frente e celebrando mais essa conquista: 25 de julho – Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha.
[1] “Todas as manhãs, menos nos dias em que eu estava de regras, a Esméria me dava uma beberagem para evitar filhos, tendo dito que, se falhasse, se eu sentisse que estava pejada (grávida) porque as regras não vinham ou por qualquer outro motivo ou pressentimento, era para falar imediatamente com ela”. GONÇALVES, Ana Maria. Um defeito de cor. 6ª edição. Rio de Janeiro:Record, 2010, pág. 239.
[2] FREYRE, Gilberto. Casa grande & senzala: formação da família brasileira sob o regime da economia patriarcal. 51ª edição. São Paulo:Global, 2006, pág. 367.
[3] REIS, João José & SILVA, Eduardo. Negociação e conflito: a resistência negra no Brasil escravista. São Paulo:Companhia das Letras, 1989, cap. 4.
[4] SOARES, Cecília Moreira. As ganhadeiras: mulher e resistência negra em Salvador no século XIX. Disponível em: http://www.afroasia.ufba.br/pdf/afroasia_n17_p57.pdf Acessado em 24/07/2013.
[5] “(…) Adeola morava em uma loja perto de Santo Antônio Além do Carmo, tinha nascido no Brasil, filha de pai africano e mãe crioula, e era liberta desde pequena.
Os pais tinham sido escravos de ganho de duas irmãs que moravam para os lados da freguesia da Barra, sendo que o pai era carregador de palanquim e a mãe, vendedora de acarás, cujo ponto foi herdado pela Adeola. (…)”. GONÇALVES, Ana Maria. Um defeito de cor. 6ª edição. Rio de Janeiro:Record, 2010, pág. 244.
[6] REIS, João José. Rebelião Escrava no Brasil: a história do levante dos malês em 1835. Edição revista e ampliada. São Paulo:Companhia das Letras, 2003, pág. 102.
Fonte: Escrevivencia





